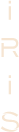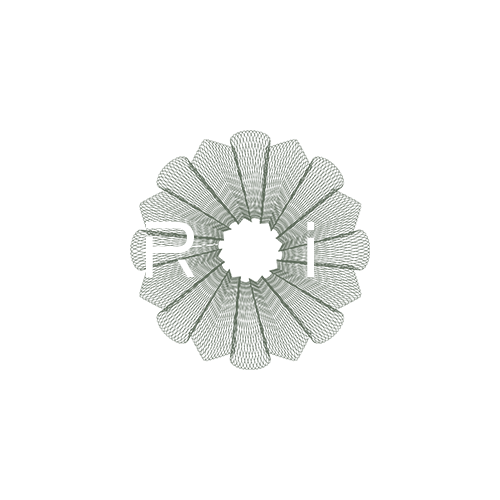Nasci em Madri, trabalhei e morei em vários lugares do mundo, mas os três anos e meio em que fiquei no Brasil transformaram meu olhar sobre muitas coisas e especificamente sobre o cinema. Admiro muito o cinema brasileiro porque acho que está muito mais ligado à sociedade do que o cinema europeu. Sinto que o motor do cinema brasileiro ainda é questionar, querer falar, provocar. Vocês acreditam no poder do cinema como ferramenta de transformação. Na Europa, vejo que o principal motor é o próprio filme, é querer fazer um bom filme. É muito mais narcísico, mais acadêmico. Vocês fazem um cinema com uma espontaneidade que pode parecer imperfeito, mas está mais cheio de vida, e para mim isso é muito mais emocionante.
Antes de filmar “Ex-Pajé” (2018) também com o diretor Luiz Bolognesi, eu não tinha nenhum contato com os povos originários. Durante os anos em que morei no Brasil, sempre tive interesse sobre a identidade brasileira, tinha lido Sérgio Buarque de Holanda e Lévi-Strauss, mas nunca aprofundei. O processo de fazer esses dois filmes, e poder ter tido a oportunidade de conviver com os paiter suruí e os yanomamis, e escutar as suas histórias contadas por eles próprios, me proporcionou uma conexão com todas essas questões de um jeito físico, político e espiritual. Realmente sou outra pessoa desde que tive esse contato, aprendi a lutar contra meu etnocentrismo e agora vejo o mundo de outro jeito.
Tudo isso graças a Luiz Bolognesi, que conheci na pré-produção de “Como Nossos Pais”, de Laís Bodanzky. Ele era o roteirista e produtor, sempre estava próximo do set e gostou da abordagem do filme, que tinha uma mecânica por vezes próxima ao documental. Ele me falou que tinha um projeto sobre pajés, mas eu ainda não sabia o que era um pajé. Aí fomos nos aproximando e fui convidado para participar. Ele é formado em Antropologia e tem um grande amor e conhecimento pelos povos originários, junto com a sua sensibilidade artística, responsabilidade política e vontade de fazer cinema, que fazem dele uma pessoa muito especial. Lembro que fizemos uma longa pré-produção, com muitas conversas, assistindo a filmes juntos (documentários, ficção e até animação japonesa), falando e escutando muito o Luiz, que é um verdadeiro prazer. Isso foi um máster em povos originários para mim, aprendi muito. Eu acho que parte do meu trabalho é saber escutar: escutar a história, o diretor, os atores… O grande fotógrafo de documentário suíço-americano Robert Frank tem uma frase que diz: “O olho deve aprender a escutar antes de olhar”. Precisas te conectar com o que vais retratar antes de fazer o retrato mesmo. Nessa contemplação prévia ao ato de fotografar, nessa calma, é onde encontras aquilo que faz com que isso que queres retratar seja único, sua essência.
“Ex-Pajé” tinha muita conexão com o homem branco da cidade, pois o pajé precisou assumir a religião evangélica para não ficar isolado em sua comunidade. Era também uma aproximação externa e mais acadêmica, pictórica e ortodoxa nos enquadramentos. Fomos muito influenciados pelo cinema de Apichatpong Weerasethakul, mais concretamente por “Cemitério do Esplendor”, que tinha acabado de ser lançado nessa altura. Agora, com o tempo, acho que estávamos a impor uma visão. Havia uma rigidez na forma, que até acho interessante porque conversa com o conflito da personagem. Mas, na “Última Floresta”, queríamos o contrário, algo mais orgânico, com fluidez, não queríamos impor limites formais. É como se os dois filmes formassem um díptico, de olhares opostos, traduzido também na linguagem. Em um filme, o pajé está sendo oprimido, existe uma rigidez estética. No outro, o pajé resiste, luta pela sua liberdade e a linguagem tem mais movimento, é mais dinâmica.


Luiz deixou claro que queria filmes bonitos, estéticos no discurso. Não era para ser uma reportagem ou a visão de um povo coitado. A idéia era transmitir vitalidade, beleza e resistência. Os dois filmes tiveram um orçamento muito baixo. No “Ex-Pajé”, tínhamos apenas um primeiro assistente de câmera, Alessandro Valese. Rodrigo Macedo, responsável pelo som, fazia o papel de logger. Na “Última Floresta”, além de Valese, resolvemos levar um logger, Filipe Caneo, para poupar esse tempo de logagem. Ele operava o drone também. Nos dois filmes também estava Carolina Fernandes, produtora e assistente de direção que foi fundamental pela sua experiência com povos nativos, com talento e sensibilidade.
Uma equipe pequena tem muitas vantagens. A agilidade para se adaptar às situações e improvisos é muito maior. Além disso, nestes filmes, a intimidade e a relação com o que estava a ser contado era tão forte, que foi criada uma dinâmica muito criativa, onde se falava muito da história que estávamos a criar entre toda a equipe de maneira muito horizontal.
Nos dois filmes, a proposta fotográfica era que a própria iluminação do lugar fosse o nosso caminhão de luz. Desde o início, eu não queria levar nem sequer um rebatedor. Queria retratar o lugar com as suas características luminosas, sem intervenção de nenhum aparelho externo ao entorno. Queria fazer o esforço de me adaptar a essa paisagem e descobrir a sua essência, sem trazer nenhum truque que poderia padronizar a imagem.
Sem levar luzes e precisando retratar a pele, teríamos uma relação de contraste muito grande entre os interiores e exteriores. Precisávamos de um sensor para proteger isso. Usamos a AMIRA, que tem o sensor ARRI e é uma ótima opção se você não precisa filmar a 4K ou em RAW. É uma câmera que parece uma coisa menor, mas é muito interessante e fica mais barato.
Na “Última Floresta”, fomos com lentes ZEISS T1.3 superspeed MKII, aquelas que têm um diafragma triangular. Tomei a decisão de fazer os planos gerais com o diafragma muito fechado. Era tanta informação visual que queria que tudo isso estivesse em detalhe. Em “Ex-Pajé”, tirei a um diafragma mais aberto e senti falta desse detalhe nas projeções. Nós, fotógrafos e fotógrafas, normalmente temos medo da definição, para não ficar com uma cara muito digital. Decidi rodar os planos gerais a T8 e T11. No monitor on board, ficava muito duro, mas na tela grande é um espetáculo quase tridimensional. Era uma questão de humildade e de confiar no que temos na frente da câmera. Foi arriscado para mim porque eu nunca tinha filmado com tanta definição, mas os lugares tinham tanta profundidade que eu tinha vontade de ver tudo.






Para mim, o maior conflito de toda a filmagem era pretender contar a história dos yanomamis sem ser um deles, pois sou uma pessoa não-indígena. Apesar de Davi Kopenawa estar no projeto desde o início a desenvolver as ideias do roteiro junto com Luiz, o desafio era como retratar com respeito tanta sabedoria ancestral sem impor uma linguagem do homem da cidade. Eu tinha acabado de assistir, em Lisboa, a uma mostra de cinema ameríndio formada por filmes filmados por indígenas, com curadoria de Ailton Krenak. O título de um dos filmes inclusive era “Já Me Transformei em Imagem”, dirigido por Zezinho Yube. Esse filme me impactou muito porque graças a ele entendi a importância que eles sentem ao serem filmados, ao “virar imagem”, e o paralelo que isso tem com o fato de ser caçado.
E, claro, com tudo isso na minha cabeça, confesso que, nos primeiros dias de filmagem, eu me sentia exatamente como um caçador em um safári. A gente não dormia com eles na aldeia. Ficamos hospedados em um posto de saúde a 2 km de distância. Dormíamos, tomávamos banho de ducha e íamos filmar vestidos com nossas fantasias de cineastas na floresta, com nossas garrafinhas de água Decathlon. Eu ficava em um conflito moral, achava que era algo sagrado, que não podíamos banalizar, pois era como se estivesse lá para caçar imagens e fazer um filme para a gente da cidade, fazendo-os “virar imagens”.
Com o passar dos dias, passei a ficar mais à vontade porque tivemos experiências de vida com eles. Não era só filmar. Caminhávamos juntos na floresta, comíamos e brincávamos. Éramos como crianças, pois não sabíamos nada e fomos aprender tudo com eles. Não sabíamos onde pisar. Tudo isso fazia com que os nossos mundos, tão diferentes, se encontrassem na brincadeira de fazer um filme. Era um exercício de humildade, tanto deles como nosso, que acho que se transmite no filme.
O povo Yanomami tem traços muito bonitos na fisionomia, eles transmitem vitalidade. São pessoas sãs e fortes. Às vezes, mostrávamos as imagens e eles achavam tudo muito engraçado, tiravam sarro, porque tem um grande sentido do humor. Também não têm medo de conflito. Se não gostam de uma coisa, falam na maior tranqüilidade. Quando a gente tinha que fazer mais de um take, as vezes eles já não achavam piada, e estava claro pela atitude deles que era melhor parar porque não iria dar certo, e tudo bem. Davi normalmente era super crítico. A gente ficava com medo quando ele chegava para assistir ao que filmamos.
Depois que o filme estreou, eu percebi que era o próprio Davi que estava caçando a gente. Era ele que estava pegando as pessoas da cidade e colocando a serviço do seu povo. É uma pessoa mágica, extremamente sensível e inteligente. Um grande guerreiro. Luiz falava que cinema era como um sonho e Davi respondia: “Então vamos sonhar juntos”.
O meu conflito moral com o fato de “caçar imagens” se viu resolvido quando tivemos o grande privilégio de “devolver” essas imagens ao próprio povo Yanomami, quando voltamos à aldeia Watoriki para fazer uma projeção para eles. Foi mágico e foi um dos momentos mais felizes que eu já experimentei com o cinema. Senti que o nosso filme é um encontro de duas culturas, que durante 80 minutos compartilha um sonho e uma luta em comum, como bem falava Davi. Só desejo que o filme ajude que esse sonho seja compartilhado, cada vez mais, por mais e mais gente.


A nossa fascinação por eles e a confiança deles por nós cresceu mutuamente ao longo das filmagens. Uma das últimas cenas filmadas foi o momento do grande ritual xamânico, que eles nunca tinham apresentado antes para ninguém. Naquela altura, nós já conhecíamos cada pajé e eles a nós, já estávamos conectados. Foram horas. Entramos na dança com a câmera. Eu me sentia muito agradecido por ser convidado nesse momento tão íntimo e tão forte, ao mesmo tempo sentia uma grande responsabilidade.
Tanto no documentário quanto na ficção, é preciso haver confiança plena entre quem está na frente e atrás da câmera. No documentário, isso é ainda mais importante, pois estamos participando da vida deles como convidados. Não existe uma técnica ou uma mecânica. É uma questão de sensibilidade e conexão pessoal. Minha estratégia é tentar passar despercebido o máximo possível e não interagir muito. Tratar as pessoas com muito carinho. Eu amo a frase “gentileza gera gentileza”. Algumas semanas antes de ir para o Brasil para começar a filmar, morreu a diretora francesa Agnès Varda. Entre as coisas que saíram na imprensa, li uma frase dela que levei como grande referência para o filme: “Só se pode fazer cinema com empatia e amor”. Isso se transmite nas imagens muito mais do que o movimento da câmera ou a posição do tripé.
Quando estás a filmar, na câmera, você não tem o tempo da montagem, mas apenas o tempo da ação. É importante estar consciente de que as pessoas vão assistir em outro tempo, em outra concentração. Para isso, ajuda muito ter a experiência de alguma vez ter editado o teu próprio material. Também recomendo muito passar pela sala de montagem para assistir ao material com o montador ou montadora. Uma grande amiga montadora me recomendou, nos meus inícios, que seria muito bom se eu contar até cinco antes de mudar um quadro. Isso ajuda muito a ter consciência do tempo de leitura e rebaixar a nossa ansiedade ao filmar. Temos que aceitar que vamos perder coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas tens que confiar na tua intuição, no que focaste a tua atenção, porque o cinema muitas vezes vai até o que está fora do enquadramento também.





Essa conversa sobre o que é ou o que não é real é algo quase filosófico. Eu não vejo a vida de um jeito dualista. Gosto de ficar no meio. Na vida, tudo é interpretação. Hoje em dia, é muito política essa relação entre o que é verdade e o que é mentira. A verdade é um pedaço de um espelho quebrado por um martelo, e que cada um decide com que pedaço ficar. No caso do documentário “A Última Floresta”, existe uma magia no cotidiano que é difícil de separar. Isso é muito claro para os yanomamis. Para eles, não existe diferença entre sonho e realidade. O que eles sonham, aconteceu.
Em um dia de filmagem, um companheiro Yanomami chegou cansado. O Luiz perguntou o motivo e ele respondeu que passou a noite caçando uma onça, em um sonho. Na fotografia do filme, tentamos transmitir essa sensação de ambigüidade, sem diferenciar muito sonho e realidade. Nas seqüências de sonhos do filme, fizemos apenas algumas mínimas modificações de cor e um pequeno glow nas highlights, mas de uma maneira muito sutil, procurando um mistério que tem a ver com coisas que você não entende muito bem, mas pode sentir. O filme busca transmitir essa idéia de espiritualidade, essa cosmologia, essa interpretação do mundo.

Existem muitos elementos na paisagem das terras Yanomami que são um tesouro para um fotógrafo ou fotógrafa. As cores eram um grande presente que só precisávamos potencializar, por isso a gente quis ter um filme com uma alta informação de cor. Nessa decisão, ajudou muito o talento e sensibilidade da grande Luisa Cavanagh, da Quanta Post, que também fez a cor de “Ex-Pajé” e que para mim é insubstituível.
Por exemplo, na floresta, em personagens mais caucasianos, o verde seria refletido na pele. No caso dos yanomamis, a pele deles é quase vermelha. Quanto maior informação de cor, maior é o contraste cromático que se gera entre verde/cyan e vermelho. Ao serem cores complementares, resulta uma combinação perfeita para ressaltar tanto a pele, como a floresta, produzindo um efeito quase mágico, onde parece que as personagens estão saindo da tela mesmo, como em uma imagem tridimensional.
A própria construção da aldeia Watoriki é um perfeito set de filmagem que poderia ter sido desenhado pelo melhor gaffer e diretor ou diretora de arte. Tem um grande círculo a céu aberto no centro, que faz a luz rebater na terra. Nas partes cobertas, onde o teto é muito baixo, a iluminação nunca bate diretamente. É uma luz lateral rebatida por uma terra vermelha, que incide sobre os personagens, com uma parede oculta ao fundo que serve de negativo.
A maior questão era como virar os personagens em relação ao ângulo da luz que entrava desde o círculo central. Isso ia dependendo da relação de contraste que era interessante para cada cena, as possibilidades eram infinitas.Também precisamos ter cuidado com o contraluz, para não abusar dele e saber utilizar esse recurso narrativamente.



A aldeia Watoriki tem toda uma arquitetura gerada pela luz. Todos compartilham o mesmo espaço circular, sem paredes ou divisórias. É a própria luz que faz essa divisão. Eles conseguem preservar os momentos de intimidade, de forma que só seja possível enxergar o vizinho nos lugares onde tem um fogo ou uma lanterna acesa. O resto é a total obscuridade. É fascinante a nível fotográfico. Queríamos preservar isso sem introduzir nenhuma fonte de luz externa.
No depoimento de Davi na lua cheia, usamos uma Sony a7S com ISO 32000 e as lentes ZEISS em T1.3. A luz lunar nesses lugares é incrível, como um holofote. Na primeira noite, fiquei sozinho com a câmera na mão, posicionado em lugares discretos, quase como um ninja invisível. Com uma equipe normal de filmagem, nunca seria possível chegar aos lugares onde filmei. Alguns desses planos foram filmados com ISO 64000, e muitos deles estão no filme.
Fiquei maravilhado com algumas seqüências que geravam um efeito de flare quando as redes balançavam em frente ao fogo. Quando precisávamos filmar perto das fogueiras, fazia um calor danado ao nos aproximarmos demais da fumaça. Às vezes, aumentávamos a fumaça com mais madeira e o calor e a fumaça aumentavam, claro. Aí sim chegamos a usar um pequeno rebatedor prata para as seqüências que tinham diálogos e tínhamos que fazer vários planos com continuidade de luz, mas eu o deixava sempre longe e meio virado, nunca direto. Achei melhor do que usar LED ou velas, pois a temperatura e qualidade da luz seria muito artificial. O olho suava tanto que eu não conseguia nem focar. Sofremos. Às vezes, pensei que o material poderia ficar obscuro demais ou com muito ruído, não tinha como avaliar no momento. Mas a gente arriscou, aguentou (mil obrigados à equipe) e as seqüências ficaram muito especiais e estão entre as cenas que eu mais gosto. Sempre que volto a assistir, sinto que estou lá junto a eles.
Com a Amira, mesmo de dia, filmamos com ISO 1250 e por vezes com ISO 1600 . Confesso que essa coragem para forçar a sensibilidade foi influência do trabalho de Pedro Sotero em “Aquarius”, quando o escutei dizer que fez todo o filme com ISO 1600.


Fiz testes em 2:35:1 a partir de fotografias que Luiz Bolognesi fez durante as pesquisas. Me pareceu que a arquitetura dos povos originários dialoga bem com esse formato, pois as malocas têm esse desenho das entradas horizontais. É como se convidássemos essa cultura para a linguagem cinematográfica de massa. Usamos a mesma janela em “Ex-Pajé”. Isso reforça essa ideia de díptico, de estimular que o público veja os dois mundos a partir da mesma janela. Tudo isso da escolha da janela, entretanto, é muito emocional. Não é um argumento técnico ou intelectual.
O roteiro tinha apenas 20 páginas, que se concentravam na história do mito de origem. Também já estavam definidos alguns personagens a serem retratados, como as mulheres, Davi Kopenawa e o caçador Pedrinho Yanomami. Durante as filmagens, criamos juntos as narrativas, que estavam mais na cabeça de Luiz do que no roteiro.

Para “A Última Floresta”, eu não queria trabalhar com referências. Eu não queria ver nada pelos olhos de outra pessoa. Queria estar lá para viver minha própria experiência e ter uma impressão pessoal.
Conheço o trabalho de Claudia Andujar, mas não quis rever. Também achei incrível o trabalho que Azul Serra fez no vídeo dos 25 anos do Instituto Socioambiental, mas só assisti uma vez. Eu não achava interessante chegar lá com informações trazidas a mim pelos não-indígenas. Por isso achei importante ver a Mostra Ameríndia com filmes produzidos pelos próprios indígenas, junto com a oportunidade que tive de conhecer pessoalmente Ailton Krenak e poder escutá-lo durante esses dias.
Claro que o livro “A Queda do Céu”, de Davi Kopenawa, que comecei a ler logo depois de filmar “Ex-Pajé”, foi fundamental para me aproximar da cultura Yanomami. É uma literatura que estimula a imaginação, que está entre a poesia e a filosofia, e de onde essa sensação de sonho e realidade é uma constante. Esse livro me fez sentir que estava em Watoriki, com Davi, antes mesmo de ir para lá. É mágico.
Trazer referências cinematográficas pode ser limitador. Normalmente vejo muitos filmes quando estou em processos de pré-produção, mas cada vez menos uso como referência. Acho que os filmes não estimulam tanto a nossa criatividade, estimulam mais a nossa vontade de imitar. Para mim, em um processo criativo é mais estimulante a pintura, a literatura, a fotografia, passear, nadar, meditar… ou qualquer outra coisa que te dê prazer nesta vida.

O primeiro dia de filmagem foi na Harvard University, onde Davi Kopenawa deu uma palestra. Tínhamos que filmar isso porque era muito simbólico, pois o germe do projeto era precisamente pôr a voz dos yanomamis em lugares onde não existe essa voz. Filmamos a apresentação e o quarto do hotel. Já havíamos falado muito sobre a linguagem, mas a grande questão era como fazer essa transição entre a terra Yanomami e o mundo da cidade.
Criamos a seqüência da cama, que poderia estar relacionada a um sonho ou um pesadelo, uma coisa onírica e misteriosa. Filmamos também um movimento com algumas árvores que sugerem essa passagem através da natureza. Tudo isso sem saber naquela altura onde encaixaria na montagem.
No auditório dentro da universidade, deixamos a câmera mais longe, com uma visão acadêmica, que permitisse vermos os brancos, os não-indígenas, diante de Davi. Quando o filme é projetado, isso provoca um efeito de espelho, pois a plateia do cinema vê uma plateia que vê a palestra.
Essas filmagens foram nos dois primeiros dias do filme, com uma equipe ainda mais reduzida, eu (levando uma Canon C300 + jogo das ZEISS T1.3 Super Speeds), mais Luiz e Carol na produção.


“A Última Floresta” me transformou física e emocionalmente, mas prefiro não misturar a minha própria história com a história do filme. Não tenho problemas de falar que sofri um acidente durante as filmagens, que uma árvore caiu sobre mim, mas acho que fizemos este filme para trazer voz ao povo Yanomami, que sofre e luta há tantos milênios. A narrativa do homem branco que sofreu um acidente fazendo um filme é, para mim, um pouco narcisista, incomparável com a luta de sobrevivência deles.
Eu sobrevivi por causa de uma série de circunstâncias mágicas e porque estive rodeado de uma grande equipe: os próprios yanomamis, Luiz, Carol, Alemão, Macedo e Filipe no set, mas também Caio, Fabiano, Laís, Dani, Nati e Pablo, das produtoras Gullane e Buriti Filmes… e muita gente mais. Pessoas que, além de muito talentosas e que amam o cinema, são grandes seres humanos, com um grande coração e uma grande empatia. Porque só assim é que se pode fazer cinema, rodeado de gente que amas e respeitas. Não é assim, querida Agnès Varda?



O espanhol Pedro J. Marquéz começou a carreira de fotógrafo de cinema em Madri no ano 2000 e também morou nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Havana e Tóquio. Depois de fotografar duas dezenas de curtas e documentários ao longo de dez anos, assinou a cinematografia do longa-metragem espanhol “Secuestrados” (2010), um suspense formado por 12 planos-sequência, filmados em apenas 12 dias. Graças à relevância do seu trabalho nesse filme, o diretor japonês Ryuhei Kitamura lhe confiou a superprodução japonesa “Lupin The Third”, adaptação do mangá homônimo. O filme foi um grande sucesso no Japão, com mais de 23 milhões de dólares de bilheteria nos cinemas em 2015. Em Cuba, fotografou o longa-metragem policial “Vientos de la Habana” (2016) e a série “Quatro Estações em Havana” (2016), da Netflix, vencedora do prêmio Platino. Na Espanha também filmou o documentário “Saura (s)”, lançado em 2017, sobre o cineasta Carlos Saura, e o drama “Tu Hijo”, distribuído pela Netflix. No Brasil, assinou a direção de fotografia dos filmes “Como Nossos Pais” (vencedor do Festival de Gramado em 2017 e do Prêmio Guarani em 2018), “Ex-Pajé” (premiado no Festival de Berlim em 2018 e no festival É Tudo Verdade), “A Última Floresta” (vencedor do prêmio do público na mostra Panorama da Berlinale em 2021) e “4×100: Correndo por um Sonho” (2021). Tem pendente o inédito “A Viagem de Pedro”, o mais recente filme de Laís Bodanzky.
https://pjmarquez.com/